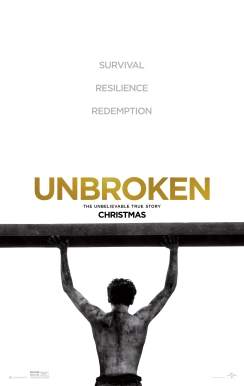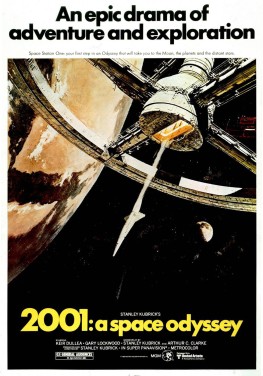O cinema nacional é visto com muito preconceito por grande parte dos cinéfilos de plantão. Apesar da indústria comercial (monopolizada pela Globo Filmes) dar destaque a longas como Muita Calma Nessa Hora, Vai que Dá Certo e Se Eu Fosse Você, algumas obras merecem atenção. Além dos famigerados Tropa de Elite, o Brasil já levou aos cinemas excelentes peças como Central do Brasil (1998), Cidade de Deus (2002) e O Bandido da Luz Vermelha (1968). Apesar disso, é inevitável ir ao cinema e não se decepcionar assistindo uma produção tão fraca de conteúdo e forma como Loucas pra Casar.
Mais uma parceria entre o cineasta Roberto Santucci e atriz/humorista Ingrid Guimarães, o filme parece partir com a mesma personagem estereotipada de De Pernas pro Ar. A protagonista, Malu, é a mesma mulher bem resolvida no trabalho, mas com problemas de ordem emocional e, invariavelmente, sexual. Apaixonada pelo “homem perfeito” – moreno, alto, levemente grisalho, empresário de sucesso (leia-se “rico”) e típico galã de novela da Globo, vivido por Márcio Garcia – a personagem aos poucos vê o conto de fadas se desfazer ao descobrir que “seu homem” tem duas amantes: Lúcia (Suzana Pires), uma dançarina de boate, e Maria (Tatá Werneck), uma fanática religiosa. A atitude das três? Passar por cima da própria dignidade e disputar o amor do macho alfa da história. Como uma verdadeira disputa selvagem entre animais em busca de acasalamento e reprodução.
O filme se sustenta em estereótipos tão machistas e cheios de juízo de valor só para parecer engraçado que acaba parecendo algo como um esquete de “Zorra Total” bem longo. Num mundo onde todos os personagens vivem em classe média-alta, não têm problemas de ordem social ou econômica (o que, estranhamente, não tem nada a ver com a realidade do público-alvo), a protagonista busca se identificar com a audiência através do preceito de que “toda mulher quer casar e ter filhos, mesmo que tenta se convencer de que é muito independente para isso”. Desse modo, os gêneros que entram na mistura – romance e comédia – fazem do filme uma grande piada de si mesmo. Não há como estabelecer uma ligação com a personagem ou com aquele universo de fantasia em que ela existe, que se contradiz o tempo todo enquanto arranca risadas forçadas das pessoas na plateia. No melhor estilo sitcom, mesmo as cenas de cunho mais “sério” ou “emotivo” acabam perdendo apelo com piadas mal inseridas, que só nos fazem acreditar que, aqui, tudo é motivo para risada.
As coadjuvantes só servem, novamente, para reforçar estereótipos e fazer cócegas no cérebro da audiência. Afinal, como qualquer peça de entretenimento banal e fútil, o filme só se presta a iludir pessoas de conteúdo igualmente banal e fútil. Lúcia é o estereótipo de “prostituta”, “safada”, ou seja lá o que a mente masculina machista de quem assiste e dá risada vai classifica-la. Já Maria é o estereótipo de “ninfeta”, “santinha”, “crente imbecil”, ou, novamente, seja lá o que a mente pagã e alienada de seus fãs catalogar. Essas etiquetas se refletem na interpretação de Suzana Pires e Tatá Werneck, que aqui trabalham com tanto empenho como quem vai ao supermercado comprar pasta de dente. Aliás, o que falta nesse filme é esforço artístico por parte dos atores, visto que os personagens bidimensionais dificilmente requerem algo mais de seus intérpretes do que o que eles já estão acostumados a fazer na TV ou outras mídias.
O terceiro ato, porém, nos reserva um plot twist digno da mente “copia e cola” dos brasileiros envolvidos no projeto. Malu – que, por sua vez, é o estereótipo da mulher histérica e obcecada pelo sexo oposto que fez a carreira de Ingrid Guimarães na telona – descobre que tanto Lúcia quanto Maria são criações de sua mente distorcida. Algo que o cinema já viu – de modo bem mais complexo e rebuscado do que aqui, obviamente – em Clube da Luta. Assim como Tyler Durden é tudo aquilo que o Narrador sempre quis ser, personificado, Maria e Lúcia são a representação física do conflito interno de Malu. Em um grau intelectualmente bem menor, é claro, o filme até que ensaia um movimento inteligente aqui. É divertido procurar na memória e ver como as pistas para a grande reviravolta foram espalhadas por todo o longa, sem a necessidade de serem repetidas em forma de flashback pra facilitar a compreensão da audiência. Quando se sabe da “verdade” sobre os personagens, todo o filme ganha uma nova interpretação. O que é louvável se pensarmos que seu público-alvo com certeza não está familiarizado com filmes que exijam o mínimo raciocínio.
Apesar do aparente esforço em refletir uma mensagem um pouco menos alienada do que sua proposta original, o filme não consegue apagar todo o estrago deixado no caminho. Seguindo a fórmula “Porta dos Fundos” de palavrões rápidos, chavões do cotidiano e até discursos de stand-up, Loucas pra Casar é uma soma de tudo o que há de pior no humor imbecil e comercialmente rentável produzido no Brasil. É claro que filmes como esse não são exclusividade nacional: Hollywood exporta esse tipo de peça “para maiores de 14 anos” aos montes todos os anos. Humor e romance são dois gêneros que não devem se misturar, mas que estúdios insistem em fazer o nome do lucro e do apelo comercial. Loucas pra Casar é o tipo de experiência que serve para aprendermos como não se deve fazer e assistir cinema.